AVISO: Este artigo contém spoilers de The Last of Us e The Last of Us Part II
Duas semanas depois do lançamento, The Last of Us Part II continua a fazer parte da discussão sobre o valor dos videojogos e a sua crescente ligação ao cinema e às restantes artes visuais. O título da Naughty Dog, que tem vindo a dividir a comunidade devido à sua estória e estrutura narrativa, parece ser um excelente exemplo para evidenciar os problemas e virtudes desta aproximação à sétima arte. Apesar de não ver com maus olhos o desaparecimento da linha entre os dois meios, sinto que há algo esquecido nesta recente discussão sobre o papel do jogador na demanda de Ellie e Abby, onde muitos se sentem sem controlo e sem poder de escolha. Na minha opinião, é isso que torna a série tão especial.

A ideia de escolha e de liberdade são uma constante no mundo dos videojogos. Longe vão os tempos em que os jogadores se deparavam unicamente com experiências lineares, mais narrativas ou assentes numa campanha pré-definida. Hoje, aliada à popularidade dos títulos online e do facilitismo do mundo digital, a versatilidade narrativa pede aos jogadores que façam parte das estórias, que realizem escolhas que mudem não só a personagem, como o mundo do jogo e a sua conclusão. Há uma vontade em dar um pouco de tudo aos jogadores, numa tentativa de simular – nem sempre da melhor forma – a sensação de liberdade e de expressão criativa que muitos sentem estar ausentes da indústria dos videojogos. Tudo é possível, nada está fechado e nós fazemos a decisão final.
No entanto, o ato de contar uma estória, no seu sentido mais primordial e clássico, significa recontar acontecimentos, reais ou fictícios, seguindo uma estrutura: um início, um meio e um final. O contador de estórias – escritor, guionista, cronista – tem uma mensagem para partilhar, uma ideia que quer ver concretizada onde a sucessão de ideias está pensada para dar origem a uma estória que seja percetível para o leitor/espetador. Há uma ideia, há uma estória e há uma forma de a contar. No cinema, por exemplo, não existem escolhas múltiplas. O guião segue uma narrativa pré-definida e por mais que não gostemos do seu desenvolvimento, a ideia e intenções são do guionista. É a sua estória. Mais do que um olhar cinematográfico, sinto que esta foi a lição que a Naughty Dog aprendeu ao debruçar-se e ao analisar a indústria cinematográfica, algo que acontece desde os tempos de Amy Hennig: a vontade de criar uma estória que não só seja dos guionistas, como seja capaz de desafiar os jogadores.
Voltemos a The Last of Us. Na reta final, Joel toma uma decisão que é, em tudo, controversa. Contra todas as adversidades, Joel decide salvar Ellie. Mesmo contra o desejo da jovem, que demonstrou várias vezes estar disposta a morrer por uma cura, Joel irrompe pela sala de operações, determinado em fazer o que acha mais correto, e mata o cirurgião responsável pelo procedimento. Ellie nunca sobreviveria à operação, Joel sabia-o. A representação da filha e a sua recusa em sentir-se sozinho e a dor da perda, é o que o motiva a matar a sangue-frio pessoas que não lhe causaram qualquer transtorno. Durante vários minutos, nós, como Joel, somos obrigados a cometer estes crimes, não porque o decidimos fazer, mas porque a Naughty Dog quis desafiar a sua ideia de bem, de causalidade e de perspetiva através de Joel, uma personagem que determinou, horas antes, ser calculista e impiedosa. Nunca me senti tão desconfortável como naqueles minutos de The Last of Us, onde tudo culminou na perpetuação de uma mentira, da recusa em aceitar novamente a perda e a atrocidade que cometeu.
Sem esta decisão narrativa, The Last of Us perderia toda a sua força. A ideia de podermos escolher entre salvar Ellie e deixá-la à sua mercê é impossível. Seria a ilusão da escolha. A Naughty Dog trabalhou as personagens, deu-nos as peças e avisou-nos do que poderia acontecer se Joel fosse obrigado a escolher. Não interessa o que os jogadores sentem, mas sim o que Joel sente. E mesmo que os jogadores, como eu, concluam que as suas ações não foram justificadas, Joel continuará a pegar na pistola e a disparar contra o cirurgião. Não aceitei imediatamente a decisão de Joel, mas senti o seu poder. Podemos expandir as comparações às tragédias gregas e à luta inglória contra o destino, onde, como Aristóteles define em Poética, são as ações e escolhas das personagens – de acordo com a sua caraterização – que ditam não só o desenrolar da narrativa como determinam a relação com o espetador. Como observadores, vemos as peças a encaixar lentamente sem podermos parar o seu progresso, de coração apertado. O final de The Last of Us continua a ser um exercício narrativo poderoso que é enaltecido pela jogabilidade, pela interação entre o jogador e as personagens, algo que o cinema, por exemplo, nunca conseguirá imitar. Isto é o poder da narrativa aliada aos videojogos.

Em The Last of Us Part II, a ausência de escolha, liberdade e das suas ramificações narrativas foram uma vez mais contestadas. Para muitos jogadores, a batalha final entre Ellie e Abby devia ser uma escolha. A ideia de Ellie libertar a assassina de Joel é um erro para aqueles que nunca compreenderam Abby, reforçando a sua necessidade em sentir a satisfação da vingança. Isso nunca acontece. Mais uma vez, a Naughty Dog retirou qualquer possibilidade de escolha e deu aos jogadores aquilo que queria contar. No caso de Part II, não quis deambular sobre o poder da mentira e da perda, mas sim do perdão, do trauma e da ressurreição. Na minha honesta opinião, esta foi a única decisão possível para a estrutura e estória que a Naughty Dog quis contar.
Tal como no primeiro jogo, The Last of Us Part II obriga-nos a cometer ações que consideramos moralmente erradas. Somos forçados a acompanhar Ellie enquanto abandona Dina e JJ para continuar a sua busca por vingança. Não podemos desviar o olhar quando reencontramos Abby, agora derrotada e à beira da morte, e a libertamos de um campo de concentração. A estória não termina até enfrentarmos Abby, quebrada e sem forças, e a obrigamos a lutar pela vida de Lev. Não há escolha. No final, quando Ellie a liberta e decide, ao recordar-se de Joel – substituindo a imagem da sua morte pela última conversa que os dois tiveram, numa demonstração de mudança e de fim de ciclo de violência –, não continuar a sua vingança, sentimos que não somos nós a decidir, mas sim a personagem. Foi Ellie, depois de todo o trauma, a parar. A confusão instala-se, as emoções vêm ao de cima e tudo culmina com o último flashback, a conversa entre Joel e Ellie, onde finalmente compreendemos o que levou a jovem ao extremismo: a ausência de escolha e a impossibilidade de perdão.

Se existisse um sistema de escolha, The Last of Us Part II perderia a sua força. O final, que considero agora mais poderoso que o original – a nível emocional e narrativo –, seria uma escolha múltipla, onde os jogadores poderiam selecionar qual quereriam ver. O final seria um troféu adicional, não existiria peso nas decisões ou valor na sua escolha. Podiam voltar atrás e escolher o final alternativo para terem a experiência que queriam. Desta forma, Neil Druckmann e Halley Gross não deixam espaço para dúvidas e fazem a decisão por nós: este é o final que quiseram contar. Perante a liberdade dos jogadores e a ramificação das estórias, é refrescante encontrar jogos que nos obrigam a aceitar a narrativa pelo que é e não por aquilo que queremos que seja. É interessante sentir-nos desconfortáveis com decisões feitas pelas personagens, contra a nossa vontade, para depois sermos obrigados a realizar essas escolhas. A série The Last of Us não teria o mesmo impacto sem esta determinação em contar uma estória.
A vontade de escolher é, no entanto, compreensível. A jornalista e apresentadora Alanah Pearce diz, no seu vídeo sobre o final de The Last of Us Part II, que se sente tão dividida pela sequência que preferia escolher e interceder pelas personagens. Isto demonstra o quanto o final é eficaz e como o jogo consegue, mesmo contra todas as adversidades, criar uma relação forte entre o jogador e as duas personagens. Há sempre uma vontade em mudar o destino e o curso de Ellie e Abby, existem crenças que queremos que sejam cumpridas e estamos tão ligados ao mundo da série que necessitamos, uma vez mais, de controlo. Mas The Last of Us não é assim e espero que nunca o venha a ser.

A escolha é uma ilusão. As decisões pessoais não existem, mas a forma como analisamos e percecionamos os acontecimentos serão nossos; únicos. Esse é o objetivo de uma boa narrativa, esta ausência de liberdade, mas um soco no estômago, onde nos vemos não como o centro das experiências, mas sim como espetadores. É um equilíbrio entre as expetativas dos jogadores e a visão do autor, onde a última muda a anterior. Nem sempre é bem sucedida, mas esta determinação deve ser louvada e é por isso que tão cedo não esquecerei os dois finais e todas as ações que fui obrigado a cometer. Assim é o mundo de The Last of Us e da narrativa.
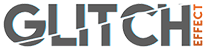

Bom artigo companheiro! Por acaso também tinha pensado em escrever algo sobre o jogo, mas como o tempo não dá para tudo, ainda não surgiu.
Quanto ao texto, sabe tão bem levar socos no estômago de coisas que não podemos controlar e ser-nos jogado na cara algo tão duro e cru como a narrativa que tivemos o prazer de viver em TLOU2.
Sabe tão bem, de vez em quando, poder jogar sem ter que sofrer a pensar se viramos à direita ou esquerda, se subimos as escadas ou ficamos pelo R/C. (Esta última foi literalmente algo que tive que escolher no jogo e não consegui subir ao primeiro andar numa casa, pois decidi ir para a garagem primeiro, local onde obtemos o arco, e depois o resto da casa ficou inacessível para minha frustração…eheh )
Basicamente, se houvesse uma escolha, este jogo nunca seria o mesmo. Se houvesse uma escolha, este nunca seria o TLOU que conhecemos.
GostarLiked by 1 person
Acho mesmo que o jogo ganha muito por saber o que nos quer contar, sem escolhas ou desvios. Por isso é que sinto que o final vai crescer nas pessoas e daqui a uns meses ou anos vão olhar para trás e perceber a mensagem. Respeito a ideia das escolhas múltiplas, mas acho que asérie funciona muito bem ao obrigar-nos a ver personagens que adoramos a fazerem decisões com as quais não concordamos!
Ora essa, mas há tanto para dizer! A sério, quando tiveres tempo, escreve sobre o jogo! Não deixes passar a oportunidade :).
GostarLiked by 1 person